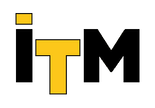O texto corresponde a um dos capítulos da tese de doutorado de Thaís Seltzer Goldstein, intitulada “Psicologia e mundo contemporâneo: o que quer e o que pode essa clínica?”, defendida junto ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em maio de 2013. Nesse capítulo, são apresentadas reflexões e passagens marcantes da trajetória profissional da psicanalista Susana Palacios, do Instituto Tempos Modernos. A entrevista foi realizada em 2011, e suscita discussões teóricas e clínicas de grande relevância à Psicanálise de nossos tempos. Cabe lembrar que a entrevistada consentiu que esse material viesse a público.
Susana: nos palácios e labirintos da fala
Decidi incluir Susana Palacios na pesquisa pois seu nome me foi entusiasticamente sugerido por um colega psicanalista que sabia que eu procurava profissionais da clínica que fossem críticos de nossos tempos e também inspiradores, por sua prática. Ele a conheceu durante sua formação no Instituto de Psicanálise Tempos Modernos, que ela dirige.
Susana é argentina, tem perto de 60 anos e é psicanalista há 40. De orientação lacaniana, já publicou livros e artigos teóricos no Brasil, na Argentina, na Espanha, na França e nos Estados Unidos. Vem organizando jornadas de psicanálise desde 1983.1 A partir de 1985, as jornadas anuais foram realizadas pelas Escolas de Psicanálise de Niterói e pela Escola de Psicanálise de São Paulo, das quais assumiu a direção desde a fundação, respectivamente em 1985 e 1986. Em 1991, participou da dissolução dessas Escolas e da fundação da Escola da Causa Analítica, com sedes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Niterói e em Volta Redonda. Em 1996, ela e outros psicanalistas criaram o Instituto Tempos Modernos, por meio do qual passaram a estabelecer parcerias com prefeituras, universidades, fóruns e outras entidades públicas, o que abriu a oportunidade de transmitirem um “saber-fazer psicanalítico praticando a interdiscursividade e acolhendo aqueles que queriam lhes falar”. Dessa forma, junto com alguns colegas, passaram a desenvolver um “trabalho voluntário”.
Com residência fixa no Rio de Janeiro desde meados dos anos 1990, foi se habituando a pegar a ponte aérea a cada quinze dias, quando vai à capital paulista para um “banho de imersão” na clínica: são sucessivos atendimentos, seminários e supervisões, geralmente condensados em três dias. Hospeda-se sempre no mesmo apart hotel, situado no bairro dos Jardins, onde atende e dá supervisão.
A entrevista aconteceu lá, numa tarde fria, em 6 de maio de 2011. Se Freud milagrosamente estivesse vivo, faria 155 anos, e, se o mesmo milagre da carne alcançasse Marx, ele teria completado 193 anos na véspera. Achamos graça da coincidência do aniversário dos gigantes, que instaurou um clima de celebração. Para Susana, não por milagre, mas por genialidade, eles estão vivíssimos: afinal, revolucionaram irreversivelmente o modo de olhar o ser humano e o mal-estar na civilização. Susana ainda lembra que, depois, Lacan levou a teoria psicanalítica numa direção que permite aproximar a ideia de “mais gozar” à da mais valia, de Marx.
Com especial desenvoltura para falar e exprimir raciocínios sofisticados em formulações sintéticas, Susana revelou também um ótimo senso de humor. Várias vezes, riu e fez rir do que dizia, independentemente de serem palavras dela ou de outros. Minhas perguntas lhe serviram como trampolins, apresentados de tempos em tempos para saltos e piruetas discursivas. A atmosfera era onírica. Creio que a pouca luminosidade ajudou, assim como o balé do fio de fumaça que saía de seus cigarros. O tom da voz, a musicalidade, o sotaque argentino, o entremear de pausas no seu falar assertivo e ainda o meu desejo levemente nervoso de fazê-la falar e poder compreendê-la compunham essa atmosfera especial. Durante os setenta minutos de entrevista, Susana partilhou memórias pessoais, fez articulações teóricas entre psicanálise, filosofia e cotidiano, contou vinhetas clínicas e situações curiosas e, por fim, fechou a conversa com uma mensagem importante para mim, a qual só entendi ouvindo-a depois, na gravação. É curioso que Thiago, que filmava a entrevista, só se lembrado de pedir licença para ligar a luz e a filmadora no meio da conversa, possivelmente também entretido com a cena, sem querer interromper.
Antes da psicanálise: impactos do rechaço da fala
No começo dos anos 1970 – durante a ditadura militar na Argentina –, Susana trabalhava como assistente social num tribunal de menores, na periferia de Buenos Aires. Certa vez, ao fazer uma visita domiciliar num bairro popular,2 notou o pavor no rosto de um garoto de 12 anos, que não conseguia falar. Convidou-o para um passeio pelas vielas e assim puderam conversar: ele contou que havia furtado um relógio e que, ao ser pego, foi vítima de violência na delegacia. Mostrou-lhe marcas de choque e hematomas no corpo: tinha sido nitidamente torturado. Impactada com o que vira e ouvira, Susana denunciou o abuso no relatório técnico sobre o caso. A juíza chamou-a e ordenou-lhe que refizesse o relatório. Susana argumentou que já o tinha feito e que, se era para refazê-lo, faria outro igual. A juíza então a ameaçou: se não fizesse diferente, seria julgada por desacato à autoridade.
“Nesse dia, eu caminhei como que 10 km… Sozinha, as lágrimas caíam… Aí eu entendi que não podia mais continuar trabalhando dessa forma e comecei a fazer a minha faculdade de psicologia, queria ser psicanalista… Hoje não a faria, porque, para ser psicanalista, não é preciso passar pela psicologia e nem pela medicina. Poderia ter aproveitado melhor esses cinco anos? Talvez, mas como saber?…”
Susana passou por duas rupturas profissionais: a primeira, quando abandonou o trabalho de assistente social, depois desse impedimento de caráter ético. A segunda, ao deixar para trás a identidade de psicóloga, quando descobriu que a psicanálise prescindia da psicologia. É curioso que, entre as carreiras das pessoas que chegam à formação em psicanálise, a psicologia tende a ser a mais próxima a ela, mas Susana a considera dispensável. Fico intrigada para saber mais sobre sua formação. Suponho que, mesmo não reconhecendo ali sua importância, o contato com a psicologia, assim como a formação em serviço social, tenham contribuído para que Susana se tornasse essa psicanalista atenta à dimensão social dos fenômenos psíquicos.
Por exemplo, nota-se a influência da psicologia em sua formação quando, buscando desconstruir uma crença muito difundida atualmente – a de que o corpo é um organismo natural –, Susana recorre ao clássico experimento de Pavlov,3 matéria básica de psicologia experimental. Ela lembra que, por meio dele, descobriu-se que um organismo pode ser enganado, e que o que parece ser “natural” não necessariamente é.
Para ela, está claro – sobretudo depois de mergulhar na psicanálise – que as mais diversas manifestações corporais, mesmo as ditas “orgânicas”, sempre se constituem em meio a acontecimentos ambientais, dizeres e desejos, inclusive os inconscientes. Depois de Pavlov e Freud, por exemplo, o corpo não pôde mais ser pensado em termos meramente orgânicos.
Entretanto, Susana afirma que hoje em dia se rechaça justamente o que é mais próprio do humano: o falar e suas consequências. Mesmo tendo se formado neurologista, diz ela, Freud ficou tão fascinado com as descobertas de Charcot e Breuer que, desafiado pelos corpos falantes dos pacientes, passou a conceber o inconsciente, vindo a construir um método de trabalho.
Como arguta lacaniana, Susana aproveita o ensejo do raciocínio que desnaturaliza fenômenos corporais para também desnaturalizar o discurso, desnudar a presença de significantes escamoteados nos dizeres e atentar a seus efeitos. Ao brincar com expressões que ao mesmo tempo revelam e ocultam sentidos, inclusive ao próprio enunciador, ela aponta a sutileza da língua.
“É natural que, por uma luz, ou por um som, se produza saliva no cachorro? Não! Então, nós não somos naturais… Embora, por exemplo, eu escute, cada vez que vou à praia, “Sanduíche natural!”, como se caíssem das árvores… Não somos seres naturais. Somos des-na-tu-ra-li-za-dos.”
Como conheceu a psicanálise
A maneira como Susana conheceu e abraçou a psicanálise parece-me também atrelada a sua sensibilidade ao social. Vejamos como isso aconteceu, pela via da transferência que estabeleceu, à primeira vista, com aquele que veio a ser seu analista. Certo dia, acompanhando uma colega médica, foi a uma reunião de psicanalistas. Até então, já se havia reunido com veterinários, agrônomos, médicos e arquitetos, mas era a primeira vez que estava entre psicanalistas, que em princípio lhe pareceram marcianos. Durante o encontro, o gesto de um deles lhe chamou a atenção: com a jarra de suco em punho, passou de um em um, oferecendo. Nessa hora, Susana decidiu que pediria à amiga o contato do tal psicanalista (dizendo ser para sua irmã). Essa escolha foi uma espécie de divisor de águas na sua vida profissional: tal como Marcelo Veras, foi no curso da análise pessoal que ela percebeu que queria se tornar psicanalista.
Trabalho atual
Outro aspecto que salienta a dimensão social da clínica de Susana é seu engajamento profissional. Além de se dedicar às três grandes atividades tradicionais no campo da clínica – formação, supervisão e atendimentos individuais –, ela ainda atua, com um grupo de psicanalistas, junto à prefeitura do Rio de Janeiro. Desde 2009, oferecem cursos de formação a profissionais que trabalham em albergues e centros de convivência conveniados com a prefeitura. Destaca os albergues Airton Senna, Stella Maris e Maria Teresa. Lá, também escuta pessoas e famílias desabrigadas.
Susana defende que, para estar com o outro, precisamos falar. Se as diferenças se põem apenas no registro físico do corpo (ou da imagem que temos do outro), isso acaba resultando em alguma espécie de rejeição à diferença, que, no limite, leva ao racismo: “Temos que poder transmitir isso que todos os psicanalistas sabemos: que somos todos filhos do discurso e nisso somos iguais”. Eis a igualdade política colocada em termos lacanianos.
Curiosa sobre o trabalho junto à prefeitura carioca, pedi-lhe que me contasse mais. Queria também compreender, da perspectiva dela, o que pode a psicanálise nesse contexto. Susana defende que a psicanálise tem modos próprios de conceber a função da família na constituição do sujeito, assim como a religião, a antropologia e a sociologia têm os seus. Para Susana, a possibilidade de capacitar agentes psicossociais em psicanálise potencializa a reflexão sobre as funções de mãe, pai e irmãos no interior de uma família. Segundo ela, o psicanalista pode sensibilizar a equipe para a escuta e a percepção do outro de uma maneira que esse outro não fique capturado por estereótipos. Em geral, quem chega a essas instituições está sem recursos, precário em sua dignidade. O profissional, uma vez sensibilizado, pode abordar esse sujeito de maneira a convocar a dignidade por meio dessa interação: aborda-o não como um “carente”, mas como alguém que, mesmo em situação difícil, ainda pode desejar e se responsabilizar pelo que vai escolher dali em diante.
Nada é pior que um inocente. E nada pior que uma vítima. Não é porque não existam vítimas, mas, uma vez que se chega lá, se pergunta: e agora, o que você quer fazer? A primeira coisa que se faz é queixar-se do outro. O outro me fere, o outro me faz, o outro não me dá. O outro, o outro… Mas quanto mais outro, menos sujeito. […] Devolver a dignidade tem a ver com tratá-las [pessoas abrigadas] dignamente, e não reduzir essas pessoas a um objeto.
Nesses termos, é possível entender por que, para ela, “nada é pior que um inocente” ou “uma vítima”: um inocente não desejou, e uma vítima não teve responsabilidade. A psicanálise opera justamente no sentido de levar o sujeito ao encontro do seu desejo e de sua responsabilidade.
Essa passagem da entrevista, sobre o olhar que reduz o outro a um “carente”, remeteu-me a um debate promovido pelo professor José Moura Gonçalves Filho numa aula a pós-graduação em 2009. Discutia-se a obra “Ensaio sobre o dom: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas” (1924), do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss. O autor descreve uma sociedade que, entre outras práticas, ritualizava a doação de bens entre os diferentes grupos e assim fortalecia os laços sociais. Em determinadas datas, os diferentes grupos se aglomeravam ao longo das margens do rio e ofereciam às divindades uma quantidade considerável de bens (alimentos, vestimentas, utensílios). Muitas vezes em períodos economicamente desfavoráveis, esse acontecimento poderia sugerir um grande e insólito desperdício, mas, mudando a perspectiva habitual do olhar, Mauss o entende como tendo suma importância para se afirmar a honra do grupo e de seus membros. É como se, por meio do ato de dar seus bens de uso e de consumo, as pessoas pudessem se lembrar de que não estão presas à condição de necessitadas ou carentes. Assim, as trocas humanas têm uma dimensão que não se restringe a saciar necessidades e carências – na condição de fluxos afetivos e culturais, fortalecem a humanidade de quem doa, que se mostra capaz de prescindir daquilo que oferece. Nesse sentido, receber é fundamental para que o ciclo se complete e possa haver uma doação no sentido inverso: não como dívida, mas como afirmação da grandeza humana.4 Assim, deixamos de operar com a lógica (talvez viciada) de que aquele que dá é benevolente, enquanto quem recebe é carente, sem ter nada para dar em troca, restando-lhe aceitar miseravelmente o que lhe é oferecido. Não que não possa haver generosidade e benevolência por parte de quem dá, ou comodismo e vergonha por parte de quem recebe, mas tudo depende do modo como cada um se põe nas relações ao longo do tempo. Parece-me que o problema surge quando se cristalizam as posições de doador ou de carente, subestimando-se a capacidade humana de se deslocar de uma a outra ou de tomar parte nas relações sem visar satisfazer necessidades, interesses ou carências.
Assim entendo o que Susana diz sobre “ouvir o outro com dignidade”: é acreditar que, mesmo estando miserável num certo momento, ele pode, em outro momento e em outras esferas da vida, ter bens (materiais ou imateriais) a oferecer ou fazer escolhas pelas quais pode se responsabilizar.
Para além de uma questão de classe
Sondando possíveis especificidades ligadas à condição de classe na clínica, pedi a Susana que me falasse mais sobre o trabalho com as famílias desabrigadas no Rio de Janeiro. Ela respondeu categórica e sucintamente:
A miséria humana transcende a questão de classes. A drogadição, por exemplo, não é um patrimônio da periferia… A miséria não é somente a privação das necessidades, como pensava Karl Marx, mas estar a sós com os gozos mortais estando submerso no eclipse do Simbólico. Assim, a miséria é um lugar de excesso. Seja com as drogas, as crenças, a violência. Enfim, como disse Lacan, trata-se dos “proletários do discurso”.
Em seguida, levanta uma questão menos evidente, mas nem por isso menos importante: será que os psicanalistas se dispõem a escutar pessoas de classes socialmente baixas? Com essa pergunta, ela nos remete ao fato de que a psicanálise, assim como a psicologia clínica, erigiram-se como campos de conhecimento e atuação profissional preponderantemente referidos a sujeitos oriundos de classes média e alta.
Gonçalves Filho já chamara a atenção para essa questão, lamentando que psicanalistas raramente sejam encontrados em reuniões populares. Seu lamento é pelo grupo – que em geral desconhece a função profissional de alguém que acompanha e colhe frutos de pensar e sentir em companhia –, mas também pelos psicanalistas.
Cidadãos das classes pobres felizmente não esperam ninguém para começar a digestão de humilhações: dedicam-se a isso de maneira que muitas vezes faria gosto a um psicanalista. Psicólogos e psicanalistas que chegaram para colaborar e durar, desde que livres de mandonismo e tiques tecnocráticos, alguma cura trouxeram: melhor cura quando descobriram que eles mesmos eram ali curados pelos outros (Gonçalves Filho, 2008, p. 29).
O autor conta ainda que, em diferentes épocas, filósofos, dramaturgos, romancistas, cientistas, pintores e cineastas já foram tocados pelo enigma da desigualdade política; suas obras de algum modo indicam – do protesto à ironia – que alguém ali reagiu. O ponto de aproximação com a psicanálise, penso, é a ideia de que a reação à altivez de quem domina ou ao servilismo de quem é dominado acontece, necessariamente, por meio da ação: na maioria das vezes, pela palavra.
“As pirações… Nós trabalhamos com elas!”
Juntando os significantes, aspirações remetem a desejo, que é motor do sujeito e campo de ação, inclusive psicanalítica. Separando-os, deparamos com nossas loucuras, mais ou menos secretas, que, segundo ela, todos temos e nas quais nos alienamos.
Susana crê que os processos de adoecimento estão relacionados a excessos de gozo mortífero, que variam de intensidade e expressão de acordo com as elaborações e manobras possíveis entre o desejo inconsciente e a negociação com a realidade social. Para ela, os pacientes de quarenta anos atrás não diferem tanto assim dos de hoje, pois, mesmo atravessando distintas épocas, mesmo oriundos de diferentes lugares e classes sociais, seguem vivendo conflitos nascidos em suas primeiras relações significativas com o outro: mãe, pai, irmãos. Logo, as relações familiares representam, para ela, um núcleo em torno do qual se organizam as problemáticas e os sintomas dos sujeitos.
Fica a curiosidade sobre como ela vê o papel da psicanálise em sociedades muito diferentes da nossa, nas quais podem variar consideravelmente as configurações familiares, as relações de parentesco e as concepções de indivíduo e sociedade.5 Parece que Susana sustentaria que, a despeito das singularidades de cada cultura e grupo social, a psicanálise pode, sim, servir-se de alguma maneira dos saberes das línguas para “entender” o adoecimento em outras culturas, mesmo que radicalmente diferentes. Em termos lacanianos, Susana afirma que “o estofo de la-língua,6 falação que é logicamente anterior à linguagem, é o lugar onde a fala ‘fala e não sabe que goza disso’”.
Mas a “cultura” na qual lhe propus refletir sobre os modos de produção e enfrentamento do adoecimento lhe é familiar: o mundo globalizado atual. Nesse contexto amplo, Susana acredita que os paradigmas do nosso tempo sejam o do consumista e o do adicto, ou seja, consumidores que não só consomem em abundância como o fazem irrefletidamente, consumindo-se a si mesmos.
No campo da clínica, isso é visível na figura dos adictos, seja pela dependência de drogas (lícitas ou ilícitas), seja pelo abuso de outras formas de gozar: comprar, comer, beber, jogar games etc. Para Susana, não passa despercebida a presença de um prefixo de negação na palavra adicto, que sugere a ideia de “aquele que não diz”.
“Menos palavras e mais coringas”
Susana conta que nas escolas é visível como o poder de argumentação dos alunos vem caindo: usam-se cada vez menos palavras e mais expressões vagas, que, como coringas, servem para diferentes contextos. Junto a isso, não se pode ignorar que o excesso de informações que compõem nosso mundo globalizado tende a gerar misturas e confusões entre o que é importante e desimportante, virtuoso e repudiável, catártico e mimético. Somos saturados e capturados por imagens, mensagens de consumo e expectativas sociais de eficiência e rapidez que estimulam pouco – ou mesmo anulam – o exercício da imaginação e do pensamento. Infelizmente, isso atravessa diversas esferas da vida, reduzindo drasticamente a capacidade de relatar.7 Ao lado dessa queda do dizer, lembra, proliferam nas cidades as drogarias, como se remédios pudessem resolver qualquer problema.
Psicanalistas costumam estar atentos ao fato de que as palavras põem em jogo o corpo e trazem embutidas, também no modo como se articulam no dizer, aberturas para outros sentidos. O método de Freud foi fundamental para dar acesso a essa dimensão; contudo, mesmo em “associação livre”, Susana lembra que “não somos tão livres assim”. Por isso, o termo deve vir entre aspas: além da genética, herdamos também um discurso familiar e social e o reproduzimos sem nos darmos conta.
Para Susana, não há como pensar o corpo de um sujeito fora dos domínios da língua e da linguagem. A importância da linguagem no campo da prática profissional e da produção teórica não é exclusividade da psicanálise lacaniana. Linguistas também analisam discursos, mas há uma diferença notável: em psicanálise, a linguagem está atrelada ao corpo. Se a língua comunica, isso é efeito. Antes, ela organiza o corpo e possibilita a vida psíquica.
Susana acredita que, uma vez em análise, o corpo vai se subjetivando e, assim, fala menos no sentido do sintoma. Cita o exemplo de uma paciente que mal se locomovia, em virtude da calcificação da medula, de dores nos ossos e problemas na circulação, que, no entanto, não eram considerados relevantes na avaliação dos médicos: mas sua realidade era “uma armadura”. Fazendo análise, esses sofrimentos e inibições desapareceram, reiterando a formulação psicanalítica de que o organismo responde não só a condicionantes neurológicos, fisiológicos e anatômicos, mas às “leis da linguagem”.
Como psicanalista, Susana não pretende adaptar, orientar nem ajustar os sujeitos ao meio. Para ela, a função da psicanálise é justamente a de “fazer falar”, ou, dito a seu modo, “ajudar o outro a ter um gozo ligado ao laço, e o dizer faz isso”. O sujeito precisa de alguém que o escute para saber o que disse e se posicionar discursivamente. Quanto mais pode dizer, menos sofre e atua impulsivamente em relação ao outro, ao mundo e a si mesmo: “Necessitamos restaurar o Simbólico, reconhecer a importância e a urgência da psicanálise na cultura de nossa época, que está perdendo, dia após dia, seu ‘capital simbólico’. (…) Quanto mais a pessoa se localiza no que diz, menos se angustia”.
Pergunto-me se, em âmbito macro, essa mesma lógica não daria sustentação à elaboração coletiva de uma armadura social – por exemplo, a violência pensada como um sintoma – justificando, assim, a pertinência de um trabalho analítico grupal. Entretanto, tal como Marcelo Veras, Susana também não acredita na psicanálise de grupo, e pela mesma razão: “há coisas que ninguém pode dizer ou consentir em grupo, só com um analista”.
Por outro lado, a experiência no campo da saúde mental tem revelado que sujeitos com dificuldades de estabelecer e cultivar laços sociais, eventualmente considerados “agressivos”, passam a falar mais e melhor, além de se organizarem psiquicamente, quando participam regularmente de trabalhos grupais, muitos dos quais sob orientação de psicanalistas. Referências importantes nesse sentido vêm sendo produzidas no campo da clínica das psicoses.8 Não cheguei a perguntar a Susana o que acha da potência do trabalho grupal na clínica das psicoses, mas tendo a crer que, ao duvidar da eficácia de uma psicanálise de grupo, tanto ela quanto Marcelo tomam a clínica das neuroses como parâmetro.
“Não somos somente seres vivos”
“Há um tipo de gozo que provém do laço com o outro”, afirma Susana. Nessa medida, por suscitar a fala em presença do analista, a psicanálise amplia as possibilidades de que um gozo venha a se constituir atrelado ao laço social. Para ela, está claro que a língua não serve apenas à comunicação; antes disso, “a linguagem anima o corpo e nos possibilita existir”. Posto isso, pode-se compreender por que “os humanos têm corpo, enquanto os animais têm organismo”.9 Um corpo herda um discurso, um organismo não. Nesse sentido, os animais têm mais liberdade que os humanos: “só herdam a genética, enquanto nós herdamos também as crenças delirantes”, a serem reconhecidas e trabalhadas em análise.
O afrouxamento dos sintomas por meio da localização do sujeito em relação ao que diz: eis como ela caracteriza o processo de subjetivação. Mas tal afrouxamento sintomático não significa que o sintoma necessariamente desapareça. Aliás, Susana afirma que não existe sujeito sem sintoma: “O sintoma não é algo para ser destruído, aniquilado ou eliminado como corpo estranho. O sintoma, para cada um de nós, é não somente sofrimento. É recurso, é forma de estar no mundo”.
E, pensando nas formas de se estar no mundo, ela reconhece uma mudança: hoje, é mais comum que as pessoas evitem se envolver social e afetivamente, preferindo modos mais solitários, independentes e instantâneos de gozar. Por isso, um grande desafio à clínica contemporânea tem sido pôr em questão a banalização da busca de bem-estar por meio de artifícios bioquímicos.
Quando lhe pergunto como as questões de gênero têm aparecido na clínica, ela desloca a questão para outra, referida não ao corpo biológico, mas à dinâmica do erotismo. Dessa perspectiva, reconhece que há de tudo, citando, por exemplo, a possibilidade de “homens gozarem de maneira feminina e de mulheres gozarem de maneira viril”.
O que pode a psicanálise?
Na visão de Susana, a psicanálise “pode [depois retifica para ‘deve’] promover subjetivação, dignidade e ex-sistência”, uma vez que aborda o sujeito e o Outro.
O crescimento dos chamados adictos desvela, para ela, a face de um empobrecimento subjetivo e um “autismo” que tende a dificultar o processo de subjetivação. Atenta ao não-dito, que de algum modo se faz dizer pelo corpo, Susana chama atenção para a importância do “mal dito”.
Em 2010, ela organizou a jornada de psicanálise A Banalidade do Mal, inspirada na obra de Hannah Arendt (1999) Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Complementando a leitura de Arendt, Susana argumenta que o gozo violento do humano não está ligado apenas à reprodução do dizer alheio e a uma servidão voluntária em nome de uma obediência devida (tal como Eischman e outros nazistas que, na Segunda Guerra, cumpriram ordens homicidas sem questioná-las). Ela acredita que algo que habita o sujeito pode ser “mal dito” – ou, como brinca, pode ser “o maldito do bem”. Posto dessa forma, o maldito é aquilo que não foi dito como deveria e, assim, não logrou substituir, pela simbolização, a necessidade de ser expresso concretamente.
Mesmo reconhecendo que peculiaridades próprias destes tempos vêm dificultando o processo de subjetivação e o estabelecimento de laços sociais, Susana acredita que elas não impedem que os sujeitos sejam provocados em análise e que venham a desenvolver outro saber fazer com aquilo que os perturba, de modo a reconhecer o que pulsa inconsciente, podendo então derrubar alguns preconceitos e se posicionar de outra maneira junto aos outros.
Corpos objetos, laços frouxos…
Dentre as crenças sociais a problematizar na atualidade, a psicanalista insiste em uma maciçamente difundida, que atribui consistência e valor de verdade ao que é “orgânico”, subestimando o papel do discurso. Susana lamenta que o corpo venha sendo visto como algo em si, ou seja, como um organismo fora dos laços sociais e afetivos: “É um corpo autista, transparente, que se submete a radiografia, ultrassonografia, análise genética etc.; corpo que toma uma pílula para dormir, outra para trabalhar, outra para ter boa performance sexual” e se manipula como um objeto.
Assim se reforçam práticas que dispensam reflexão e responsabilização, que ignoram, tamponam ou mesmo depreciam conflitos – afinal, a eficácia está posta objetivamente em “gozar o mais que puder”! Mas, se o conflito é inerente ao convívio humano e se tais corpos buscam – tanto quanto possível e o quanto antes – se anestesiar diante de qualquer desconforto (seja ele físico ou mental), só pode haver confusão entre alívio e harmonia, assim como entre estorvo estéril e sofrimento que ensina. Na dúvida, como diz o dito popular, “joga-se fora o bebê, junto com a água do banho”.
Por sorte, ficam algumas sombras. Hoje, vamos em direção ao cientificismo, à ideologia cientificista. Na verdade, o capitalismo, o liberalismo… Querem nos reduzir a sermos um corpo, contra o próprio habeas corpus do direito. E não somos somente um corpo vivo. Há exagero e rechaço em se dizer que somos todos “seres vivos”. Porque não somos só seres vivos. […] Hoje, quando chega uma histérica, ficamos contentes. Sim, porque hoje nos chegam outras problemáticas… Para se chegar a “histericizar” alguém, temos que fazer todo um trabalho. […] É certo que hoje também temos mais pressa: tudo tem que ter um tempo apressado. Se não funciona algo aqui e agora, parece que não funciona, não é verdade?
Talvez por isso a histeria lhe pareça auspiciosa; afinal, diferentemente de outras formas de adoecimento, como fobias, compulsões e depressões, ela não costuma ser acompanhada por retração do laço social. Ao contrário, a histeria fala.
Na concepção de Susana, “a vida é necessária, mas não suficiente: muitos vivem sem existir”. Para ela, a existência demanda um saber fazer (com o desejo, com os impulsos, com a culpa, com a palavra) que nem sempre se realiza.10 “Só ex-istimos como falantes” – assim é que se pode estar subjetivamente vivo. Nesse sentido, a percepção de Susana se aproxima muito da de Marcelo, que considera seu maior desafio na clínica hoje a possibilidade de, por meio da análise, fazer com que determinados pacientes se coloquem no discurso.
Susana comenta que uma supervisionanda sua que vive em Nova York lhe contou recentemente que as brigas entre alunos na escola estavam tão frequentes que a direção decidiu suspender o recreio. Susana suspeita que as crianças venham lidando mais com máquinas do que com seus semelhantes: “quando estão diante umas das outras, não sabem o que fazer”. Essa hipótese é semelhante à de Cecília, da Clínica Agrupar (também entrevistada nesta pesquisa), para quem a imersão maciça de crianças e adolescentes no mundo dos videogames e chats tem produzido modos próprios de “lidarem” com conflitos – e as aspas se devem ao fato de que, nesse caso, lidar parece desprovido de maior responsabilização pelo que se diz ou faz. Afinal, basta um clique, e o conflito é arrastado para fora de um campo de enfrentamento.
Uma das referências citadas por Susana é o filósofo contemporâneo o Zygmund Bauman, para quem as relações entre as pessoas, na modernidade, constituem-se como conexões líquidas – espraiadas e efêmeras –, nas quais o outro conta como um objeto que pode tanto me entreter como me aborrecer, e, neste último caso, basta apertar “delete” para cortá-lo da minha rede, sem maiores consequências.
Da crise das alteridades à crise da autoridade
Sobre o declínio da autoridade (relacionado ao que Lacan chama de “Simbólico”), Susana afirma que, em nosso tempo, ele é concomitante ao crescimento do uso de palavras de efeito, por vezes equivocadas, para se tentar justificar atitudes esvaziadas de autoridade. Lembra, por exemplo, de uma de suas pacientes que contava, orgulhosa, ter uma família “democrática”, pois não se dava conta de que o fato de deixar a filha de três anos escolher a escola onde estudaria era sobretudo uma desresponsabilização sua de se posicionar como mãe, abstendo-se de conduzir ela mesma a formação da menina.
Como se mencionou no capítulo 1, sobre a Agrupar, há uma discussão proposta por Hannah Arendt (2011) no período pós-guerra e pós-ditaduras mundiais que foi retomada por Viégas (2010), ao refletir sobre o papel da educação na construção de novos caminhos no século XXI, fosse nas escolas ou nas famílias. Para Viégas, a história recente sobre a relação de pais e educadores com seus filhos e educandos, ao invés de se constituir como uma relação de autoridade (reconhecida e legitimada), fez-se num movimento pendular – ora recaindo em posturas autoritárias (vejam-se a palmatória e a humilhação pública), ora pela ausência total de autoridade, de modo a se deixar seu lugar aberto a todo tipo de manifestação humana, inclusive a do mal e de sua banalização.
De fato, até algumas décadas atrás, educadores, pais e avós chegavam a bater em crianças e adolescentes, se assim lhes parecesse. Os jovens que combateram essas posturas na década de 1960 – hoje pais, avós e educadores –, supostamente para evitá-las, deixaram vago o lugar da autoridade.
Deixou-se de bater, mas também deixou-se de ensinar, de contar a própria história. Deixou-se de falar em utopia para os mais jovens, que hoje vivem em um mundo sem esperança e sem um projeto maior. Quando muito, se fala de um projeto de vida em particular; raramente em projeto de mundo, de sociedade, de relações humanas. Sem que nos déssemos conta dessa confusão entre autoridade e autoritarismo, o fato é que muitos educadores deixaram esse lugar vazio (Viégas, 2010, p. 18).
A crise da função paterna
Hoje, nos meios psicanalíticos, é comum ouvir falar em “crise da função paterna” ou “crise da lei”. Ao discorrer sobre o que vem encontrando em seu consultório de psicanálise, Maria Rita Kehl se pergunta se o neurótico habitual teria passado a uma posição próxima do perverso – na medida em que consegue driblar a falta pelo uso do fetiche – ou se ele segue sendo o “neurótico comum”, agora tentando obedecer a uma norma que, nos dias atuais, não é mais repressiva como na época de Freud, mas permissiva à transgressão e estimuladora do gozo ilimitado. Sua hipótese caminha no sentido de que a maioria das pessoas que atende clinicamente tenta corresponder a essa suposta normalidade vigente. Então, para compreender a nova expressão do funcionamento neurótico, Kehl passa a focar a mudança social.
A “crise do sujeito”, outra face da chamada “crise da referência paterna”, corresponde, a meu ver, ao deslocamento e à pulverização das referências que sustentavam, até meados do século passado, a transmissão da lei. Não se trata da ausência de lei na atualidade, mas da fragilidade das formações imaginárias que davam sentido e consistência à interdição do incesto – a qual, desde Freud, é considerada condição universal de inclusão dos sujeitos na chamada vida civilizada, seja ela qual for. Se o homem contemporâneo sofre do que Charles Melman chamou de centro de gravidade, é porque as referências tradicionais – Deus, Pátria, Família, Trabalho, Pai – pulverizaram-se em milhares de referências optativas, para uso privado do freguês (Kehl, 2011, p. 143).
Segundo Kehl, o mundo privado das relações afetivas e familiares passa a ser atravessado pela mesma linguagem e lógica da eficiência comercial, e os sujeitos, identificados com mercadorias, temem não agradar. É oportuno repetir aqui um excerto citado também no capítulo II desta tese:
O self-made man dos primórdios do capitalismo deixou de ser o trabalhador esforçado e econômico para se tornar o gestor de seu próprio “perfil do consumidor” a partir de modelos de oferta no mercado. Cada um tem o direito e o dever de compor a seu gosto um campo próprio de referências, de estilo, de ideais. Aparentemente, não devemos mais nada ao Pai e ao grupo social a que pertencemos, dos quais imaginamos prescindir para saber quem somos (Kehl, 2011, p. 143).
Susana reconhece a quebra de alguns tabus e a conquista de liberdades como marcas positivas de nossos tempos: “O casamento gay, por exemplo, hoje é permitido e marca uma mudança cultural importante”. Contudo, as mesmas conquistas que derrubam tabus morais podem ter efeitos colaterais que reforçam a lógica de que é bom quebrar todo e qualquer limite, o que lhe parece preocupante.
Alguns limites se dissolvem também no interior da família, promovendo laços que ela considera “incestuosos” – referindo-se à permissividade instaurada nas relações, e não a práticas sexuais. Ela conta, por exemplo, que uma paciente sua, assistente social, foi recentemente à Itália para um congresso que contava com a presença de juízes e outros colegas de profissão. Discutiram-se casos de pais que solicitavam ao juiz alguma intervenção no sentido de fazerem seus filhos com mais de 40 anos sair de casa e não mais lhes exigir o pagamento de “mesada”. Susana lembra que, há poucos anos, o comum era o contrário: que os filhos quisessem sair rapidamente da casa dos pais para ganhar a vida e conduzi-la à sua maneira. Não se pode desprezar a eventual relação entre esse evento e a crise econômica europeia, agravada nos últimos anos, mas essa crise certamente não responde sozinha pelo que se passa no interior das famílias, a ponto de ser preciso acionar um juiz de direito para intervir na negociação entre pais e filhos adultos. Faz pensar que algo importante, ligado à assunção de responsabilidades, está em crise.
De fato, como se viu na entrevista com as profissionais da Agrupar, tem sido comum que pais e educadores deleguem a terceiros (em geral “especialistas” da saúde e do direito) decisões, negociações e responsabilidades antes agenciadas no interior da família e da escola. Minha hipótese é a de que muitos pais e educadores não estão sabendo lidar com os desafios que se vêm impondo no dia a dia da lida com crianças, adolescentes e jovens; e, pior, muitas vezes, eles se ancoram solitariamente em posturas defensivas e paliativas, para tentar suportar o sentimento de esgotamento, ignorância e impotência. Isso faz pensar que a psicanálise precisa se ocupar não só com a ponta da cadeia (jovens que falam pouco, mas se cortam e se drogam; crianças agitadas; adolescentes indiferentes) etc. – mas também com seus cuidadores, que, ao que parece, também estão perdidos e precisando de cuidados.
Projetos futuros: “não se pode viver sem eles”
Quando lhe pergunto sobre seus projetos futuros, Susana imediatamente responde como quem partilha sua agenda de trabalho, anunciando primeiramente um projeto mais duradouro e outro de realização em curto prazo: seguir com o “trabalho interdiscursivo” que vem desenvolvendo junto à prefeitura do Rio de Janeiro e concretizar uma jornada de psicanálise intitulada O Corpo e suas Diferentes Abordagens, que já vinha sendo organizada e foi de fato realizada meses depois, em outubro de 2011.
Impulsionada pela questão sobre os projetos seguintes, Susana teceu algumas considerações sobre o futuro, entremeando a fala com longas pausas, o que salientava a atmosfera enigmática e me causava certa ansiedade; acabei interrompendo-a precisamente nesse precioso momento em que ela teorizava sem pressa. Ouvindo a gravação, percebi que Susana disse alguma coisa sobre o desejo que se impõe a seu tempo e que não temos como escapar disso. Falou também sobre o movimento paradoxal do desejo, que se projeta para o futuro só porque é feito de passado: ora, se desejamos como desejamos é porque somos também constituídos de uma história. Nesse sentido, o desejo enlaça o sujeito no tecido do tempo. Sujeitos que desejam podem, portanto, viver o tempo como indiviso, como experiência de duração, e não como tempo dividido pelo senso prático e utilitário que se impõe na mecânica cotidiana da vida. É interessante que, no campo da psicanálise, Safra (2004; 2006) discorre sobre o fenômeno do desenraizamento produtor de adoecimento no mundo contemporâneo. Para ele, o mundo atual propicia desenraizamentos étnicos, ou perda de referências ancestrais; éticos, perda do senso de solidariedade e responsabilidade mútua no campo das relações humanas; e finalmente, estéticos, perdas vividas no eixo do tempo e do espaço, marcadas por vivências aceleradas, fugazes, encolhidas, pouco acolhedoras das necessidades humanas e, muitas vezes, impeditivas da experiência de duração, partilha e elaboração de sentidos para o que se vive. Na clínica contemporânea, sofrimentos ligados a modos peculiares de solidão e esvaziamento do desejo de futuro induzem adoecimentos que parecem traduzir no indivíduo o impacto de processos de desenraizamento mais amplos.
Na cultura do excesso, como sustentar o desejo? Creio que Susana ia falar justamente sobre isso quando eu a interrompi. Começou a frase assim: “Se não há falta…”, mas possivelmente eu não tenha suportado antever sua abordagem desse enigma, mudando abruptamente de assunto com a pergunta sobre o que gostava de fazer em seu tempo livre.
Um pouco mais sobre ela…
Susana gosta de ler. Fala desse gosto como desfrute, como trabalho e também como amizade. Desfrute e trabalho, pela possibilidade de conhecer o que já pensaram, disseram e fizeram outros tantos. Nesse sentido, pode vir a estar de acordo, e assim apreciar a boa cumplicidade, assim como pode discordar do que lê e construir, pela via do conhecimento, uma base para suas argumentações. Ao ler, Susana põe em ação seu desejo de conhecer. Por meio do conhecimento, sofisticou-se e ampliou-se também sua concepção de “leitura” e “escrita”: afinal, a escuta e a fala contam como formas de inscrição e responsabilização subjetiva pelo que se diz e faz. Como interlocutores, os escritores contam como seus amigos.
Possivelmente também porque não tenha sido capturada pelo uso do computador – de que não gosta –, Susana aprecia estar em casa com seus familiares, seus livros e suas plantas, assim como encontrar-se com seus amigos. Gosta de conversar com o marido e ouvir música que ele faz, mesmo depois de quarenta anos de casada. Também gosta de falar com os filhos e netos: gosta de vê-los crescer. Conta uma situação engraçada, em que a neta caçula a surpreendeu se pondo a “falar” sobre orquídeas mesmo sem dominar o idioma partilhado: “Essa é a minha vida espiritual”!
Susana foi criada com religião, mas hoje, para ela, a religião está mais associada aos horrores históricos e à alienação subjetiva do que à espiritualidade. Lamenta, em tom irônico, que sua empregada, que é solteira, diga que não está só porque vive “com Deus”.
Para Susana, se há Deus e espírito, eles são outra coisa, provavelmente misturados às limitações e condições existenciais humanas: “A existência de Deus é porque Deus é inconsciente”. Provavelmente por isso coisas simples da vida sejam para ela mais sagradas do que qualquer ritual religioso. Testemunhar o desabrochar de uma flor, ouvir as canções do marido, participar do desenvolvimento dos netos, difundir a psicanálise ou mesmo ler um bom livro são experiências que compõem sua vida espiritual, cuja aura sagrada se faz ver pelos olhos de quem reconhece poesia, mistério e inventividade em meio à certeza do inconsciente, da passagem do tempo e da finitude.
Já perto de encerrar a entrevista, agradeci-lhe a disponibilidade. Ela a reiterou e, em seguida, me disse algo que parece ser tão ou mais fundamental do que a própria disponibilidade, a qual tende a estar associada à receptividade generosa em meio ao fluxo de incontáveis compromissos. Algo pelo que não lhe agradeci em tempo e que tem mais a ver com a qualidade do que com a quantidade: trata-se do que ela transmite com sua escuta, seu discurso e a narrativa de sua história. Com Susana, pude perceber mais claramente a importância de escolher pessoas que cultivam o gosto pelo que fazem, apesar de. Creio que, inconscientemente, essa aposta tenha sido um de meus critérios para escolher os entrevistados. No caso de Susana, a escolha foi bem acertada: sua visão crítica de mundo e sua postura cética em relação à fé religiosa convivem com uma espiritualidade imersa no mundo da vida e com um entusiasmo genuíno pela psicanálise e pelo conhecimento de modo geral. Talvez porque reconheça, no miúdo da vida, o poder de a linguagem permitir aos sujeitos alçarem voos e fazerem ancoragens capazes de ampliar possibilidades humanas. Com a psicanálise, Susana dá sentido ao mundo a sua volta, dá sentido ao que vive e também ao que transmite aos outros, mesmo que não tenha domínio sobre isso. É a partir da psicanálise que Susana se situa no mundo vocacional e existencialmente. Encerro com suas palavras:
Para mim, é o que eu faço o que me anima, e é o que eu realmente gosto de fazer. Minha vida não seria a mesma, não teria muito sentido sem a psicanálise. Então, tudo o que eu possa transmitir… Do que sei, e também do que não sei também, não é verdade? Porque a gente transmite as duas coisas. Então, é isso: não porque estou disponível, senão porque gosto. Gosto da eficácia que tem a prática do discurso psicanalítico.
REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.
______. A condição humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
______. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do Mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
BAUMAN, Zygmunt Bauman. Fronteiras do Pensamento, Porto Alegre/São Paulo, 2011. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=POZcBNo-D4A& feature=fvwp>. Acesso em: 30 jan. 2013.
BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: ______. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1987.
BOTTON, Alain de. Religião para ateus. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2011.
BRUM, Eliane. Permissão para ser infeliz. Época, 14 jan. 2012a. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/elianebrum/noticia/2013/01/permissaopara- ser-infeliz.html>. Acesso em: 23 jan. 2013.
______. Os robôs não nos invejam mais. Época, 24 out. 2011. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/10/os-robos-nao-nos-invejam-mais.html>. Acesso em: 3 jan. 2013.
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Grupo Interinstitucional Queixa Escolar (Orgs.). Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doenças de indivíduos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.
FREUD, Sigmund. (1925). Algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Obras completas. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
______. (1921). Psicologia das massas e análise do eu. Obras completas. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
______. (1930). Mal-estar na civilização. Obras completas. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
______. (1926). Entrevista concedida ao jornalista americano George Sylvester Viereck. Versão condensada. Acheronta – Revista de Psicoanálisis y Cultura. Disponível em: <http://www.psicomundo.org/freud/bibliografia/entrevista.htm>. Acesso em: 7 jan. 2013.
______. Entrevista concedida ao jornalista americano George Sylvester Viereck em 1926. Journal of Psychology – Psychoanalysis and the Fut. Edição Especial, Nova York, 1957.11
GOLDSTEIN, Thaís Seltzer. Psicologia e mundo contemporâneo: o que quer e o que pode essa clínica? Tese. (Doutorado em Psicologia). Departamento de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano. Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013.
GONÇALVES FILHO, José Moura. A invisibilidade pública. In: COSTA, Fernando Braga da. Homens invisíveis: relatos de uma humilhação social. São Paulo: Globo, 2008. p. 9-47.
______. Humilhação social, humilhação política. In: SOUZA, Beatriz de Paula (Org.). Orientação à queixa escolar. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. p. 187-221.
JERUSALINSKY, Alfredo. Gotinhas e comprimidos para crianças sem história: uma psicopatologia pós-moderna para a infância. Textura – Revista de Psicanálise, São Paulo, ano 5, n. 5, 2005, p. 4-11.
______. Adolescência e contemporaneidade. In: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. 7a Região. Conversando sobre adolescência e contemporaneidade. Porto Alegre: Libretos, 2004. Disponível em: <http://chasqueweb.ufrgs.br/~slomp/edu01011/jerusalinsky-adolescencia-contemporanea.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2013.
KEHL, Maria Rita. 18 Crônicas e mais algumas. São Paulo: Boitempo, 2011.
________. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009.
______. Função fraterna. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.
LÉVI-STRAUSS, Claude. Introdução à obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. p. 183 a 314
.
MARTINS, Ivan. As alegrias do corpo: felicidade física não se obtém apenas transando, comendo ou dormindo. Época, 16 maio 2012. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/ivan-martins/noticia/2012/05/alegrias-do-corpo.html>. Acesso em: 7 jan. 2013.
MELMAN, Charles. O homem sem gravidade: gozar a qualquer preço. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2003.
OUTEIRAL, José. Adolescência: modernidade e pós-modernidade. In: WEINBERG, Cybelle (Org.). Geração delivery: adolescer no mundo atual. São Paulo: Sá, 2005. p. 13-28.
SAFATLE, Wladimir Safatle. Para além do Édipo. Folha de S.Paulo, 10 jul. 2012. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/1117548-para-alem-de-edipo.shtml>. Acesso em: 30 jan. 2013.
SAFRA, Gilberto. Adoecimento físico e psíquico, saúde e cura: o corpo como presentificação da biografia. São Paulo: Sobornost, 28 abr. 2008a. (Videoconferência.)
______. As novas ilusões do ser humano no mundo contemporâneo. São Paulo: Sobornost, 26 out. 2007. (Videoconferência.)
______. Desvelando a memória do humano: o brincar, o narrar, o corpo, o sagrado, o silêncio. São Paulo: Sobornost, 2006.
______. A po-ética na clínica contemporânea. 2. ed. São Paulo: Ideias e Letras, 2004.
SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval. Pesquisa participante e formação ética do pesquisador na área da saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, p. 391-398, 2008.
______. Pesquisa participante: alteridade e comunidades interpretativas. Psicologia USP, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 11-41, 2006.
VERAS, Marcelo. A loucura entre nós: uma experiência lacaniana no país da saúde mental. Salvador: Aldeia Bahia Brasil, 2010.
VIÉGAS, Lygia. A aventura de educar no século XXI. Revista da Escola de Pais do Brasil, Salvador, BA: Seccional Salvador, n. 31, p. 15-20, 2010.
WEBER, Max. (1905). A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2. ed. rev. São Paulo: Thomson Learning Pioneira, 2012. Disponível em: <http://bib.praxis.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/praxis/78/A%20%C3%89tica%20Protestante%20e%20o%20Esp%C3%ADrito%20do%20Capitalismo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 21 fev. 2013.